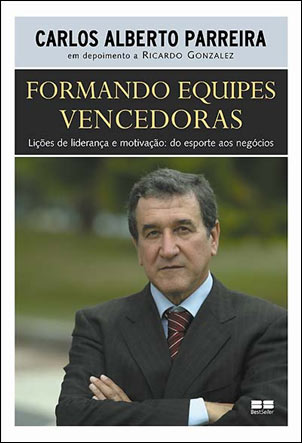Sábado passado briguei com a namorada, e por conta dessa briga acabei ficando em casa, ensimesmado, sem ter o que fazer. Ao entrar na internet soube dos devastadores ataques de Israel a Gaza, depois do fim da tregua entre as duas partes.
Sem nada de melhor pra fazer, decidi entrar no debate no terreno minado que é a caixa de comentários do blog do Pedro Dória. As pazes com a namorada vieram já no sábado à noite – mas o debate sobre Israel vs. Palestina… Bem, podem conferir o resultado nos postos do Pedro sobre o assunto – aqui, aqui e aqui.
Eu me ausentei do debate no últimos dias porque , bem, tinha de trabalhar (até o dia 31) e comemorar o fim do ano era uma opção bem mais aprazível.
Só que agora o Pedro convoca as pessoas que contestam a sua posição pró-Israel a responder três perguntas, e eu, de papo pro ar nesse da 1º, não consigo resistir. Confiram o texto do Pedro pra entender o contexto das perguntas e vamos lá:
“1. Israel tem o direito de existir onde existe?”
Essa questão é de um lado, completamente irrelevante e, de outro, uma das questões essenciais a se tomar posição. O segredo, talvez, esteja no tempo verbal da pergunta.
Israel tem o direito de existir onde existe? Bem, como os judeus que moram lá nunca irão embora voluntariamente, se você responder “não” a essa pergunta, vai ter que concordar, em última instância, com uma limpeza étnica ou com a Solução Final 2 – A Missão. A pergunta, então, se torna apenas um instrumento retórico, que pode tanto ser usado pra desmascarar antissemitas (se escreve assim agora, a partir de hoje...) quanto pra encurralar debatedores de boa vontade.
Os debatedores de boa vontade, porém, podem reformular sutilmente a pergunta: Israel tinha o direito de existir?
A coisa agora muda de figura. Responder sim ou não ainda é uma armadilha, mas respostas não precisam ser binárias. A minha é a seguinte: os árabes não tinham nenhuma obrigação de aceitar o Estado de Israel. Mas os judeus, após o Holocausto, e principalmente, após a recusa de todos os países do mundo a acolher os sobreviventes da II Guerra como refugiados, não tinham também nenhuma outra alternativa que não fosse fundar Israel.
A criação de Israel é, portanto, um evento trágico. Não deveria acontecer, mas não tinha como deixar de acontecer. (A não ser que os árabes tivessem vencido a guerra, o que no entanto geraria imediatamente um problema humanitário tão difícil quanto o que temos hoje….) Tentar jogar a culpa em um ou outro lado é improdutivo, e leva a tentar resolver a questão pela força – o que é garantia de sacrifícios terríveis, contínuos e inúteis para os palestinos e suicídio moral a longo prazo para os israelenses.
Aceitar a resposta que eu dei, no entanto, terá implicância na resposta para a segunda pergunta;. Vamos a ela:
“2 – Os israelenses que conheço aceitam na hora que lhes for oferecido um acordo de paz que preserve as fronteiras de 1967 e divida Jerusalém em dois. O governo de Israel, se os países árabes oferecerem algo assim em troca de paz, assina na hora. Pessoalmente, acredito que até um governo do Likud assina um acordo definitivo de paz assim. Basta suspender as agressões de parte a parte. (Não estou sugerindo, com isso, que tal oferta é simples de fazer ou que Israel seja inocente; Israel é paranóica.)
Um acordo assim é justo?
Sim, sim, claro, dou até o link da carta do Uri Avnery para o Barack Obama.
Mas, se os termos do acordo já foram cristalizados, como diz o Avnery, há dois pontos que precisam ser ressaltados sobre como chegar nesse acordo. Um é difícil de aceitar pelos israelenses, o outro pelos palestinos.
a) Os israelenses tem que admitir que, a despeito de estarem “encurralados” pela preponderância árabe na região (é até verdade, mas há uma malandragem retórica nisso, que vou explicar na respósta à terceira pergunta), eles falharam em construir qualquer confiança com os árabes. Porque, de Oslo a Camp David, persistiu entre os negociadores israelenses uma insistência em impor conquistas feitas à força para depois os palestinos aceitarem a imposição como um fato. Basicamente, repetir em menor escala o que foi feito em 1948. Israel tem que renunciar a essa atitude, em definitivo.
Porque, depois de 1948, e principalmente, 1967, o que Israel impõe não é mais a sua sobrevivência pura e simples, mas coisas bem menos nobres. Desde os ultrajes mais lembrados – como a construção das colônias em território que devia ser dos palestinos , os terrenos confiscado para a construção do muro de separação, etc… – até outros mais esquecidos, mas não menos importantes – como o controle de águas e estradas, que transformariam os territórios palestinos em bantustões. Esse últimos, nunca é demais lembrar, estavam na tal “oferta generosa” de Camp David.
O problema é que, para os palestinos, isso é terra deles, que os israelenses tomaram pela força. Os palestinos não foram responsáveis pelos motivos que levaram os judeus a fundar Israel – por que então eles teriam que aceitar essas imposições de força como se fossem justas, até hoje? Um trecho de um artigo do NYRB sobre o fracasso de Camp David explica o que está em questão[os grifos são meus]:
“For all the talk about peace and reconciliation, most Palestinians were more resigned to the two-state solution than they were willing to embrace it; they were prepared to accept Israel’s existence, but not its moral legitimacy. The war for the whole of Palestine was over because it had been lost. Oslo, as they saw it, was not about negotiating peace terms but terms of surrender. Bearing this perspective in mind explains the Palestinians’ view that Oslo itself is the historic compromise—an agreement to concede 78 percent of mandatory Palestine to Israel. And it explains why they were so sensitive to the Israelis’ use of language. The notion that Israel was “offering” land, being “generous,” or “making concessions” seemed to them doubly wrong—in a single stroke both affirming Israel’s right and denying the Palestinians’. For the Palestinians, land was not given but given back. ”
A incapacidade de Israel de perceber essa diferença essencial de percepção entre eles e os palestinos acaba fazendo surgir uma decadência moral, em que o esquecimento do ponto de vista do outro lado faz com que os israelenses se tornem cada vez mais dependentes da força, veneradores mesmo do uso dela. Mas, como lembra o David Foster Wallace, “worship power, you will end up feeling weak and afraid, and you will need ever more power over others to numb you to your own fear”.
A veneração da força tem degenerado moralmente Israel, há um bom tempo.
b) Do lado palestino, está a questão dos refugiados. O problema é que a solução realmente justa – a volta pura e simples dos refugiados – é impossível, os palestinos têm que admitir. O que resta é tentar construir uma solução negociada, que consiga desmontar a paranóia israelense e ao mesmo tempo não seja vista como uma sujeição humilhante pelos palestinos.
A sugestão do Uri Avnery, para isso, é a seguinte:
“Israel reconhecerá o princípio do direito de retorno dos refugiados. Uma Comissão Conjunta de Verdade e Reconciliação, composta por palestinos, israelesnses e historiadores internacionais estudará os fatos de 1948 e 1967 e determinará quem foi responsável por cada coisa. O refugiado, individualmente, terá a escolha de 1) repatriação para o Estado da Palestina; 2) permanência onde estiver agora, com compensação generosa; 3) retorno e reassentamento em Israel; 4) migração a outro país, com compensação generosa. O número de refugiados que retornarão ao território de Israel será fixado por acordo mútuo, entendendo-se que não se fará nada para materialmente alterar a composição demográfica da população de Israel. As polpuldas verbas necessárias para a implementação desta solução devem ser fornecidas pela comunidade internacional, no interesse da paz planetária. Isto economizaria muito do dinheiro gasto hoje militarmente e a partir de presentes dos EUA.”
Gosto um bocado da idéia de botar a comunidade internacional pra pagar a conta. Eu sugeriria, particularmente, que fossem listados todos os países que se recusaram a receber refugiados judeus após a II Guerra…
Mas há nessa sugestão, pelo menos, um erro lógico, e uma dificuldade que foi convenientemente esquecida.
O erro lógico está em dizer que “o número de refugiados que retornarão ao território de Israel será fixado por acordo mútuo, entendendo-se que não se fará nada para materialmente alterar a composição demográfica da população de Israel”. Ora, a integração de refugiados irá, por definição, “alterar materialmente a composição demográfica da população de Israel”. Se não alterar, será irrelevante. O que o acordo deve definir, na verdade, é o quanto de alteração demográfica poderia ser feita sem ameaçar a existência de Israel.
Mas isso é só um erro de formulação, o problema não deixa de ser o mesmo. O bicho pega em outro aspecto: como fazer os dois lados chegarem nesse acordo? Vejam a situação: de um lado temos um paranóico, venerador do poder que obteu para poder afastar o próprio medo. Do outro, um ressentido, que “não conseguiu responder em tempo a uma agressão e rumina a vingança que não será perpetrada” – ou não tem como perpetrar.
Percebam a magnitude da dificuldade: temos que criar confiança entre um país paranóico e outro ressentido. De um lado, Israel não consegue se convencer de que ficará seguro, e vê como justa qualquer opressão necessária pra garantir essa segurança; do outro, a Palestina, que não tem como reverter a tragédia de 1948, mas não consegue deixar de ruminar vingança contra o agressor (do ponto de vista árabe, não dá pra ver os sionistas de outro modo) enquanto adia a solução de seus problemas efetivos, que poderiam vir de um acordo de paz.
Óbvio que há algo de caricatura em chamar israelenses de paranóicos e palestinos de ressentidos nesses termos. Mas a caricatura não deixa de ser o exagero dos elementos que definem pessoas e países, não?
3 – “Mas o que é uma reação proporcional justa? O que quero dizer é: Israel pode se defender? E, ao se defender, o que pode fazer?”
A dificuldade a responder a essa pergunta não é só de Israel, mas está na própria natureza que guerra adquiriu no século XX.
A guerra aérea é uma regressão moral em si mesma. O Hobsbawn coloca como epígrafe de um dos capítulos d’ A Era dos Extremos, uma frase de um analista militar em que ele diz o seguinte: logo que começaram a fazer bombardeios aéreos os exércitos perceberam que com aquela ação já não era possível diferenciar civis e militares, e que qualquer tentativa dos exércitos em tentar diferenciar um do outro em seus ataques poderia ter efeito de propaganda, mas não efeito real. Mais inocentes morreriam, fatalmente, a partir do momento que essa nova tecnologia militar começasse a ser usada.
Claro, alguns defensores da Guerra do Iraque falavam a sério de “ataques cirúrgicos”, mas enfim, fé é matéria para os crédulos…
Diante da regressão moral que os ataques aéres são em si mesmo (regressão moral do qual o Hamas não escapa com seus Qassams, diga-se de passagem), fica difícil definir o que seria uma reação proporcional justa. Eu também faço a mesma pergunta, e também não consigo saber qual é a resposta, e me recuso a entrar no paradoxo moral do contra-terrorismo (que vou explicar depois). Em um raciocínio simétrico, poderia ser atacar os pontos de onde os mísseis são atirados, ao invés de investir contra a estrutura do Hamas. Mas achar os lançadores do Qassams é como achar agulha num palheiro, o que torna a resposta materialmente impossível e, portanto, não válida.
O que resta é lembrar alguns fatos que são malandramente distorcidos ou esquecidos:
a) O Hamas, sozinho, não tem como destruir Israel, hoje. Com a força de seus Qassams, o máximo que ele pode conseguir hoje é desocupar as cidades vizinhas num raio de uns 30 ou 40 km (não lembro qual é o alcance exato desses mísseis ). Se alguma sobrevivência está sendo defendfida , é a das cidades que estão na fronteira com Gaza. O que Israel quer é impedir de toda e qualquer maneira que o uso da força possa ser uma opção para os palestinos. Faz isso porque encara qualquer vitória pela força de um inimigo seu como uma ameaça direta à sua sobrevivência. (Relembre o dito do DFW sobre a veneração do poder). A prerrogativa do uso da força é toda de Israel, mesmo quando o inimigo tem um poder muito menor, como que é o caso do Hamas.
As análises do contexto militar do conflito feitas pelo Elias e pelo Gabriel no blog do Pedro Dória, apesar de excelentes, cometem a seguinte malandragem: aplicam ao Hamas as propriedades dos exércitos árabes ao redor de Israel. A fragilidade de Israel é diante desses países árabes, mas não do Hamas. Claro, o Hamas é manipulado pelo Irã, e o Hamas pode ser usado para “amaciar” Israel para uma guerra maior, sabemos disso – mas guerra, guerra mesmo, efetiva, é entre Hamas e Israel.
b) O paradoxo moral do contra-terrorismo: ataques aéreos matam muito mais do que atentados terroristas. Vejam a guerra no Líbano de 2006, as guerras americanas no Afeganistão e no Iraque… Mesmo quando o motivo é justo, mesmo quando não se pode não reagir, etc, etc, os custos humanos de um ataque aéreo contra aqueles que perpetram atentados terroristas sempre acabam se tornando maiores do que os custo humano do terrorismo em si. O paradoxo não está em Israel ou nos EUA, mas na guerra aérea moderna em si, como lembra a citação feita pelo Hobsbawn.
O problema dos apologistas de Israel, ao que me parece, é que tentam fugir desse paradoxo. Isentam Israel da responsabilidade de “apertar o gatilho”, de ser aquele que toma a decisão de fazer os ataques desse jeito. O Hamas sabe o que está provocando, Egito e Arábia Saudita dizem amém, mas é Israel que toma a decisão. Dessa responsabilidade não há como fugir.
Por fim, a conclusão é que a pergunta oferece dificuldade demais e solução de menos. Que tal reformular a pergunta: “Como Israel deve se defender, para garantir sua sobrevivência no longo prazo?”
Porque o uso unicamente da força para garantir a sua existência é suicídio por parte de Israel. No longo prazo, pela força, Israel pode ou ser derrotado e destruído, ou então vencer mas ter que tratar como cidadãos de segunda classe os palestinos que vivem em territórios dominados por ele, na Gaza e na Cisjordânia. É uma escolha entre a destruição física ou a destruição moral.
Os israelenses têm que, a todo custo, recusar essa escolha. Se têm que se defender, devem ter em mente que estão aplicando um veneno como remédio, e que insistir nesse veneno vai matá-los no decorrer do tempo.
Eu sei que isso não responde à pergunta diretamente. Mas dá, pelo menos, algum parâmetro para uma resposta.
Epílogo
Mas qual seria o sinal para Israel tentar largar a paranóia? Quando os israelenses poderiam ter certeza que sua existência está garantida? Eu gosto da resposta que eu dei uma vez para o David Butter: quando Israel puder disputar as eliminatória da Copa do Mundo pelo Oriente Médio, e não pela Europa. A partir desse momento, Israel não seria mais “uma cabeça-de-ponte, um cruzado” nas palavras do Uri Avnery neste belíssimo texto, mas estaria definitivamente integrado ao Oriente Médio, e o fato de ser uma democracia poderia finalmente ser um exemplo para os outros países da região.*
Além de ser uma maneira bem mais fácil de chegar a uma Copa do Mundo, o que é mais importante do que qualquer objetivo geopolítico. :)
*Corrigido depois do comentário do Chesterton.